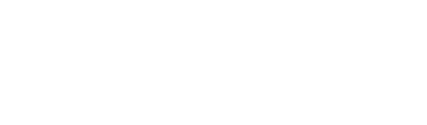TEXTO VITOR MARTINS • FOTOS BOX REPSOL
Chegaste ao Mundial nos anos ‘80. Como recordas essa época? A minha chegada aconteceu em consequência da grande temporada que Álex Crivillé estava a fazer. Começaram na JJ Cobas com um projecto novo depois de terem deixado a Derbi, e em princípio estava previsto fazerem bons resultados, mas o Álex começou a ganhar corridas, viu-se a possibilidade de ele vencer o Mundial e eu entrei para trabalhar no banco de ensaio com os motores. Recordo que a minha chegada foi graças à Repsol, que entrou como patrocinador e trouxe os fundos necessários para fazer esse trabalho no banco de ensaio.
Que representou para ti chegar ao Mundial em 1989 e ganhar o título com Álex Crivillé? Ganhar o título foi algo alucinante. Nesse primeiro ano estive a trabalhar nos motores do Álex, e ver que as coisas funcionavam e ganhar um título que, em princípio, quando se contratou o Álex, não estava previsto na JJ Cobas, foi muito importante.
Foram vários de vocês que trabalharam com o maestro, o engenheiro António Cobas. O que achas que ainda está presente daqueles anos? Cobas marcou uma era no Mundial de Velocidade. Tinha um carácter super-tranquilo e nunca colocava limites. Dizia sempre «nunca saberás como algo funciona até a teres experimentado. Por muito louco que seja o projecto em que estás a trabalhar, o que há a fazer é testá-lo». Os quadros que usamos agora são fruto das suas ideias e é uma lástima que nos tivesse deixado tão cedo.
Para além do advento da electrónica, onde houve a maior evolução? Evoluiu tudo. Os pneus mudaram muito, ganhou-se em potência, especialmente no seu controlo e a aerodinâmica não pára. Quanto ao campeonato, profissionalizou-se muito; evidentemente mudaram muitas coisas e deu um passo em frente, para o bem e para o mal, que também existe, mas é um preço a pagar para ter um campeonato como o actual.
Como recordas a vida no paddock nos anos ‘80 e ‘90? Antes era como uma família, não havia estruturas tão grandes, e todas as equipas se deslocavam no camião ou num autocarro. No nosso caso, era uma autocarro de ‘quinta mão’ com uma tenda de campismo. Imperava o companheirismo e não havia pressas. Recordo que uma das grandes diferenças era que, depois dos treinos, as equipas falavam e até comiam juntas, não em hospitalities, mas na própria box. E depois começava-se a trabalhar.
Passam-se mais ou menos horas agora? Agora passam-se muitas horas a trabalhar no circuito. Continua a haver dias em que estamos entre 14 a 16 horas na box. O que acontece é que se profissionalizou tudo, incluíndo o funcionamento dentro das boxes, e assim que terminam os treinos procuras dar uma lista aos mecânicos de tudo o que há a fazer, para começar o mais cedo possível.
Conheceste as 125, 250, 500, 990, 800 e 1000 cc. Com qual ficarias? Cada categoria tem algo de bom e algo de mau. A moto que recordo com mais carinho é a Honda NSR500. E depois também a 990, a primeira MotoGP a quatro tempos e cinco cilindros, que era um motor simplesmente espectacular, simplicíssimo, com uma construção brilhante, sem muita tecnologia.
Dois tempos ou quatro tempos? Para mim claramente dois tempos, porque para um mecânico era de outro mundo. Tinha muitas mais variáveis; ninguém usava um motor ao qual não realizava alterações, era impossível. Toda a gente fazia as suas alterações; às vezes ganhavas potência, outras vezes perdias, mas sempre trabalhávamos. As motos a quatro tempos têm muito trabalho de afinação, seja de electrónica ou mecânica, mas há muito pouco trabalho manual. Há poucas coisas que podes fazer com as mãos. Quando trabalhamos com as dois tempos, embora fosse uma moto oficial, cada um tinha os seus pequenos truques. Todos os dias tínhamos que desmontar as culassas, verificar os êmbolos, etc..
Conheceste também uma grande variedade de pilotos. O que achas ser mais importante na relação técnico-piloto? A importância da relação técnico-piloto está sobretudo na confiança a nível técnico. Não há nada melhor para um piloto do que ser capaz de explicar ao seu técnico o que se passa e confiar nele para o solucionar. E para o técnico é o mesmo: se sabes que o piloto te explica realmente o sentiu na moto e tem claro o que necessita para ser rápido, ajuda a decidir a linha a seguir. É importante a confiança mútua a nível de trabalho.
Que recordações te vêm à cabeça da tua altura na Repsol Honda com Alex Barros? Na altura com o Barros na equipa os resultados não apareceram muito. Ele vinha de uma operação realizada no Inverno, perdemos toda a pré-temporada, e quando começou o campeonato, os resultados não foram os esperados.
O campeonato mudou muito. De que sentes falta, e o que existe agora que gostaria de ter tido noutros tempos? Sinto falta de muitas coisas. O plano técnico, o plano artesanal, o plano manual. As coisas que se faziam, o que podias inventar e testar, e que agora é impossível pelo funcionamento da moto. No meu início gostava de ter tido maior facilidade em inventar coisas, porque o problema dos bancos de ensaio e de quando desenvolves uma moto, é que partes muitas coisas, porque nem tudo funciona. Fazia-se bem e foi bom porque vencemos o Mundial, com motos que funcionavam, mas tínhamos sempre que evitar o risco de explodir um motor, já que para a equipa era um problema.